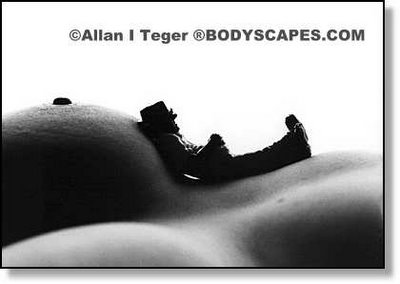Este é um post longo, desculpem. Quem tiver paciência que leia...
Este excerto foi-me enviado pelo meu mano,
Quando tentei esquecer-te (
Paixão) pela primeira vez.
Talvez não seja má ideia voltar a tentar...

"Voltei a pensar em ti. Um dia mais, um mês mais, um ano mais.
Em Fevereiro é sempre pior. Os bailes de máscaras e os corações de cetim cintilante em montras de namorados tornam-se verdadeiros avivadores de memórias. Como o algodão doce. Deixa-nos na boca cor-de-rosa de açúcar, um fio doce, doce e bom, de tal forma que nem a doçura amarga volta.
Assim é o amor, “o que não mata morre…o que não morre mata.”
Nós, os “mortos”, aqueles fanáticos do amor a quem o fatalismo tocou, somos muitas vezes toldados por esse grande defeito de ter uma dose de amor a mais. Basta uma só. Às vezes acontece bater certo, se a substituirmos ou dividirmos em vez de somarmos e multiplicarmos, porque os números são ajustes de contas infinitos, e o infinito é quase eterno e o eterno faz dores de cabeça por ser tão grande, tão catastrófico e nos tornar tão impotentes perante ele. A verdade é que meio mundo anda a chorar à socapa de outro meio. Meio mundo arrasta o coração de dez toneladas explodindo em culpa. Meio mundo espera, na impaciência resignada dos dias, que essa outra parte perdida volte. Meio mundo anseia que o destino interceda em seu favor e lê nas estrelas e no “tarot” toda a luz que precisa para que o planeta gire ao contrário e as peças se toquem na mesma órbita, naquele preciso instante matematicamente certo.
Mas o universo não é assim. As estrelas e os cometas e os meteoritos que se encontraram, uma vez que fosse, ainda que inflamados em fogo, desaparecem em órbitas diferentes, em direcções diferentes, opostas até. E esse ponto único de cruzamento futuro é apenas absurdo. Então, inventamos uma só palavra que define com doçura e encanto a improbabilidade universal de dois corpos se voltarem a encontrar com a mesma intensidade de luz – a saudade. Somos apenas almas que gerem com maior ou menor perícia essa saudade doida.
Sentada num banco do jardim olho a árvore. A mesma que, da janela do meu quarto, atravessa as cores e o vento e o cheiro das estações. Sei que os troncos nus e vazios da noite acordam vestidas de folhas, as folhas enfeitam o jardim de verde-novo, amarelecem e vão-se embora. Não tem importância nenhuma porque é sempre assim, sem novidade. Prefiro a ausência, uma saudade arrefecida, uma saudade que nos faz ter tempo para recuar e olhar para dentro. A saudade não, não sobra tempo para nada, porque todo o tempo do mundo lhe pertence. Por isso gosto da ausência, tem a virtude de seleccionar o melhor, dar lustro às imagens que julgávamos desimportantes, a passar um mata-borrão nas más. Na ausência, resolvemo-nos por dentro e acertamos contas com a memória das coisas boas. Como a luz do teu olhar, sempre que alongávamos a vista pelas ondas altas de espuma a rebentarem do outro lado da estrada e te ouvia a falar do juízo da vida. Ou quando nos sentávamos nos degraus de pedra a escutar o silêncio dos cedros que varriam as nuvens devagarinho para perto do mar. Ou simplesmente nada. No nada que nos separa agora cabe lá tudo o que quisermos. É melhor que não voltes. Quando voltas, baralho a ausência com a saudade e confundo tudo. Não posso fazer travar a história dividida das nossas vidas, nem amplia-la à minha maneira para que a lembres melhor. Do que serve colar “cromos” de um metro e oitenta, cultos e tudo, na caderneta? Ceder à tentação de um “new-look” ultra arrojado? As massagens de requinte asiático que nos devolvem o corpo de vinte anos? Viver de sopa e ananás quinze dias seguidos? Chorar ao colo do psiquiatra ou fugir para as Maldivas?
Dizem que o tempo cura. É mentira. O tempo não cura nada, o tempo alivia a dor, consola-nos a alma, ensina-nos a tratar os afectos como pessoas crescidas. Uma espécie de anestesia fraquinha, que nos faz distrair de nós mesmos. Das nossas emoções e da força dos nossos sentidos. E depois vêm os entendidos, movidos pela urgência da cura. Trazem o diagnóstico numa mão e a receita noutra. Chama-lhe obsessão, fixação, paranóia, teimosia, e para que ela se instale há que declinar o verbo esquecer, em todos os tempos e modos, como se alguém assim estivesse realmente interessado em esquecer. Mas na verdade tornámo-nos “artistas do amor” e a convalescença é apenas o analgésico da recaída – quando nos julgamos sarados de ausência, ela ganha contornos antigos e de repente agita-se à nossa frente maior do que nunca antes. É este o sentido trágico da vida: a dose a mais de amor, aquela que mata porque não morre. Contas feitas, o que prevalece são paródias de Carnaval… A pressão da água a explodir dentro dos balões, serpentinas partidas que não chegam a atravessar o dia, máscaras para esconder o cansaço, desfiles de ilusão pelas ruas da cidade e os tais corações de cetim brilhante, como a minha avó dizia: “brilham tanto que são falsos, filha, os verdadeiros vêm-se à distância”.
Entre a verdade que dói um bocadinho e a imitação que distrai um bocadinho, “faz-se da vida uma aventura errante.”
Na ausência tudo isto fica mais claro. Vou ver se não volto a pensar em ti…"
“
Coração de Cetim” – Maria de Lopo de Carvalho (16 Fev. 2002)
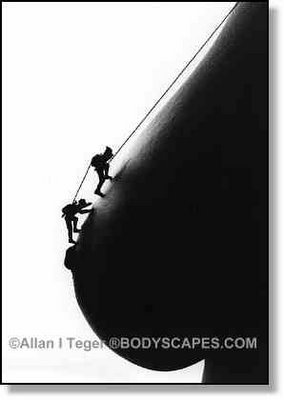 Solta-me o desejo...
Solta-me o desejo... Leva-me à exautão
Leva-me à exautão